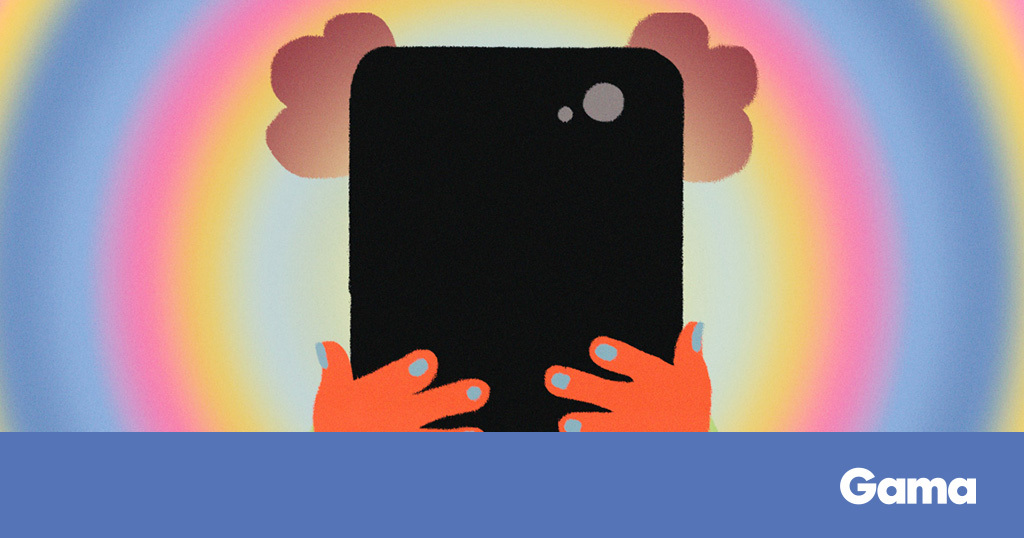A psicanalista, especializada em estimulação precoce, fala sobre a ansiedade e o encurtamento do pensamento de bebês e crianças intoxicadas por eletrônicos
“Tudo o que é excessivamente fragmentário produz uma condição muito ansiogênica e gera o encurtamento do pensamento”, diz a psicanalista Julieta Jerusalinsky, especialista em estimulação precoce, sobre os prejuízos à infância que a exposição exacerbada e sem acompanhamento que telas e redes sociais, como o TikTok, que oferece milhões de vídeos curtos deixando os pequenos siderados, tem gerado em famílias de todas as classes sociais.
MAIS SOBRE O ASSUNTO
Por que crianças não devem usar as redes sociais?
Apps de rastreamento parental: quando vale a pena usar
Sharenting: como pais expõem os filhos na internet
A profissional não demoniza as novas tecnologias que, para ela, “resolveram muitos problemas”, mas que, por outro lado, trouxeram novos — e gigantes —, como um sem-número de bebês e crianças intoxicadas por eletrônicos.
O desenvolvimento humano, de acordo com Julieta, depende da transmissão simbólica e da interação com o ambiente, especialmente nos primeiros anos de vida. O uso indiscriminado de telas nessa fase, porém, pode privar as crianças de experiências estruturantes, substituindo situações cotidianas significativas por estímulos descontextualizados e fragmentados.
Nesta entrevista a Gama, ela aborda ainda a necessidade de desintoxicar crianças dos abusos tecnológicos, destacando a importância de pais e mães se questionarem sobre o que os dispositivos eletrônicos substituem na vida dos filhos, qual buraco eles preenchem. A psicanalista reforça que o desmame das telas de cristal líquido deve ser acompanhado por situações estruturantes que permitam à criança representar e elaborar simbolicamente as experiências vivenciadas.
-
G |Quais os principais prejuízos que o contato excessivo e precoce com as telas oferece às crianças?
Julieta Jerusalinsky |As crianças não chegam ao mundo estruturadas. Nascemos com características orgânicas de base, um código genético e certas características morfológicas, mas as experiências de vida são decisivas para nos tornarmos quem somos. Por isso, o contato e a relação com os outros, além da possibilidade da criança ter com quem representar o que a afeta, são cruciais. Assim, o que precisamos perguntar é: De que maneira o uso de telas pode privar uma criança, desde a mais tenra infância, de situações estruturantes? Por exemplo, um bebê que convive com os adultos que compartilham as situações mais cotidianas, como comer, tomar banho, se vestir, passear. Essas são situações nas quais há estímulos que fazem parte da vida cotidiana e são representados a partir desse cotidiano. As cores, as temperaturas e os sons que atingem um bebê vão ganhando representações naquele contexto de vida. No momento em que se tem a ilusão de que isso pode ser substituído por uma tela de cristal líquido, que tornaria as crianças inteligentes, o que acaba sendo produzido é um excesso de estímulos descontextualizados que estão fora da situação em que esses contextos ganham um valor simbólico e fora de uma situação em que eles podem ser representados numa estrutura de diálogo com os outros. É por isso que de 0 a 3 anos, fase de entrada na linguagem, a utilização dos eletrônicos causa um enorme dano. No momento seguinte do desenvolvimento, vem a importância do brincar simbólico. E, ao substituir o brincar simbólico, com construção de cenas a partir de outros imaginários de representação, pela forma de brincar dos jogos eletrônicos, a gente passa a se encontrar com um cenário que está dado e que, portanto, coloca a criança como um ser passivo, justamente quando ela precisa ser a autora do faz de conta.
A riqueza do diálogo e a riqueza do brincar são insubstituíveis
-
G |Como educar crianças sem TV ou internet em um mundo hiperconectado?
JJ |Tem uma pergunta crucial que os pais precisam se fazer: no lugar do que a tela entra? Hoje, a tela entra com o desenho que a criança vê enquanto come porque isso pode ser mais fácil para o adulto. Mas que representação a criança tem desse alimento, dos sabores e da produção de um hábito compartilhado com o outro? Não se trata de isolar completamente uma criança dessas novas linguagens, trata-se de pensar que, por exemplo, ao contar uma história, um adulto modula a voz, estendendo aquele momento e produzindo mais interesse na criança. Quando uma criança assiste a um desenho que tem um ritmo maquínico, aquilo não está endereçado singularmente a ela. Já quando é o adulto que está ali, ou quando se permite que crianças criem cenas em conjunto, vai se produzindo um enriquecimento simbólico sem precedentes. A riqueza do diálogo e a riqueza do brincar são insubstituíveis porque quando conversamos ou brincamos há, pelo menos, três entroncamentos cruciais da linguagem. Ficamos expostos à polissemia, quer dizer, às diversas significações que uma palavra pode ter, dependendo do contexto, ficamos sujeitos aos nossos próprios atos falhos e somos expostos a mal-entendidos que o outro pode ter. Nesses entroncamentos é que se revela a riqueza simbólica que a linguagem tem para o ser humano, muito diferente de quando temos contextos prontos de jogos que, tantas vezes, são de correspondência de idênticos, com uma forma de jogar pré-pronta que suprime a criatividade. Por isso, é fundamental nos perguntarmos que crianças queremos criar: crianças criativas, inventivas, que vão para o mundo autorizadas a transformá-lo, ou crianças que seguem instruções? E, dentro disso, é importante perceber que, muitas vezes, os adultos dizem sim ou não para o acesso de crianças às telas e usam esse poder como moeda de troca para prêmios ou castigos. Ou seja, se a criança não se comportar, ela será privada desse objeto que a cultura tanto sublinha como sendo fundamental. Ao fazer isso, o que os adultos estão dizendo? Que o importante é o tablet, é o celular. Porém, os próprios adultos, em alguns casos, não armam seus limites em relação a esses objetos. Eles mesmos ficam, no almoço ou num momento de convívio familiar, com os celulares na mão. Não basta dizer não para uma criança e não armar o próprio limite porque senão a gente acaba tendo adultos que convivem com as crianças de corpo presente, mas psiquicamente ausentes.
-
G |Pais e mães que ficam com as crianças de “corpo presente, mas psiquicamente ausentes” são capazes de desintoxicar os filhos? Uma vez que eles próprios estão intoxicados — seja porque o trabalho exige ou pelo vício em redes sociais, por exemplo. Como ajudar esses pais?
JJ |As crianças não são tolas. A educação não tem a ver só com o que se diz, ela tem a ver com o cruzamento entre o que se diz e o que se faz. Então, as crianças aprendem muito por identificação. Trata-se também de como os pais podem fazer objeção ao uso de telas nos momentos de convívio. E isso é um enorme desafio. Quando, fundamentalmente, eu falo da questão das intoxicações eletrônicas, há 15 anos, isso tem a ver com o quê? Com a entrada da internet wireless e com o uso dos smartphones. A partir do momento em que tivemos a possibilidade de uma janela virtual no nosso bolso, apagaram-se as bordas temporais e espaciais do trabalho, sendo possível trabalhar de qualquer lugar e a qualquer momento, o que suprime os tempos de convívio e de lazer. Ou seja, isso invade o tempo inteiro a vida dos adultos, causando danos às crianças. Sem dúvida, as novas tecnologias resolveram muitos problemas, e a gente não quer voltar atrás, mas elas também causaram novos problemas.
-
G |Como essa forma de “estar junto” afeta pais e crianças?
JJ |Muitas vezes, os pais se sentam para brincar com as crianças com o celular do lado. A gente não pode minimizar o efeito que tem, por exemplo, quando um adulto está à mesa para uma refeição e, de repente, ele se tensiona porque recebeu uma notícia de trabalho que invade a cena. Os adultos precisam começar a refutar essa invasão permanente das telas na vida. Vemos pessoas que perdem o fio do que está em jogo na cena e acabam ficando desanimadas porque, durante uma conversa, há outros 20 papos em paralelo pelo WhatsApp, ou seja, as pessoas, também ficam fragmentadas, descontextualizadas. E se isso tem um efeito para adultos já estruturados, certamente é muito mais radical para as crianças que estão em plena estruturação. Às vezes, os adultos pensam no que fazer para que uma criança fique, sem a tela, sentada à mesa de um restaurante. Que tal desligar a tela? Pode surgir uma conversa, uma brincadeira com palitinhos, com giz de cera. Vivemos em um mundo em que as pessoas têm horror do vazio. E quando se produz um certo vazio porque, claro, o celular preenche tudo — sempre tem uma notícia a mais para ler, uma foto para dar like, um e-mail por responder —, é desse vazio que coisas novas podem surgir, em vez da compulsividade digital que tem produzido ansiedades, distrações e insônias. Então, isso também produz um adoecimento porque se impõe um ritmo maquínico, e não o ritmo necessário que nós precisamos para elaborar a significação do nosso viver na relação com o outro.
Tudo o que é excessivamente fragmentário produz uma condição muito ansiogênica e gera o encurtamento do pensamento
-
G |No livro “Intoxicações Eletrônicas – O Sujeito na Era das Relações Virtuais” (Agalma, 2017), publicação organizada por você, o termo intoxicado é bastante utilizado. Uma criança intoxicada por eletrônicos é, necessariamente, uma criança viciada em eletrônicos?
JJ |Eu não gosto muito de usar a palavra vício, me parece importante pensar na ideia de uma intoxicação. Porque a ideia de algo tóxico é a ideia de algo que está em excesso, ou seja, que está ocupando um lugar que não deveria ocupar.
-
G |Na quarentena, pais e mães, sem saída porque precisavam trabalhar de casa, ofereceram telas — da TV, do tablet e do celular — aos filhos. Muitas crianças que, até então, não tinham tido contato com esses objetos eletrônicos, ficaram intoxicadas. Como desmamá-las das telas?
JJ |Durante a pandemia, isso foi radical, sobretudo para as crianças das classes média e alta. Esses pais tinham que trabalhar em home office, ou seja, estavam em casa, mas não podiam dar atenção às crianças. E ali houve um efeito catalisador de um problema que a gente já encontrava: a questão das intoxicações eletrônicas, que é diferente de usar uma tela para falar com um avô que mora longe, fazer a lição de casa junto com um amigo ou ter aula virtualmente. É preciso entender que é muito diferente ver um filme do que, por exemplo, passar 1 hora e 20 minutos no TikTok vendo vídeos de 30 segundos que produzem uma fragmentação da percepção em que tudo fica muito curto e imediato. Há uma enorme diferença entre ver um filme com a criança e, depois, conversar sobre aquela obra do que ver um fragmento, outro fragmento, mais um fragmento, sem espaço para elaboração. A pandemia produziu um efeito catalisador disso. Agora, as intoxicações eletrônicas atingem todas as classes sociais, porque a primeira coisa que alguém compra quando pode é um celular. A gente encontra esse problema não só nas clínicas das classes média e alta, ele está presente também na saúde pública. É o uso das telas como uma maneira de fazer com que uma criança fique quieta, pare de explorar o espaço ou pare de chorar. Quando usamos uma tela com algum desses intuitos, impedimos que a criança simbolize o que acontece com ela própria, impedimos que se console de uma frustração na relação com o outro, atrapalhamos a compreensão do que é certo e do que é errado e inibimos a exploração do espaço. Quando suspendemos essas situações que, sim, dão trabalho e são desafiadoras, como a troca de uma fralda — tarefa que necessita da contribuição da criança e do entendimento de que a mamãe ou o papai estão trocando a fralda dela —, e fazemos isso dissociando a criança do que está em jogo, com uma tela a uma pequena distância do seu rosto, impedimos que ela represente o que está acontecendo. Precisamos entender que se endereçar à criança é uma construção pela palavra, pelo chamamento aos hábitos que fazem sentido e têm importância. Quando suprimimos isso, deixamos de estruturar uma criança.
-
G |E você tem dicas práticas de como ajudar nesse desmame das telas?
JJ |É preciso produzir situações porque com a criança trancada dentro de casa fica mais difícil. Também temos que entender que toda essa problemática é consequência de uma forma de cuidar que se tornou muito performática e solitária porque os pais pensam que o educar virá dos aplicativos ou de conselhos dos aplicativos. Muitas vezes, os pais querem seguir esses conselhos e deixam de olhar para os seus próprios filhos ou deixam de buscar na sua própria história o que eles faziam, do que é que brincavam, o que eles podem compartilhar de uma maneira prazerosa e menos solitária, indo para uma pracinha, se juntando com outras famílias. Ou seja, criando situações em que eles também saiam da sua solidão e busquem espaços de trocas coletivas e vivam, com a criança, situações surpreendentes. É crucial também buscar dentro de si aquilo que gostaria de transmitir para as crianças.
-
G |Como identificar uma criança intoxicada pelas telas? Quais são os sinais?
JJ |Justamente quando, diante das brechas, ao invés de brincar, inventar, buscar o outro pelo olhar, pela vocalização, demonstrar interesses diversos, a criança suprime a curiosidade, a brincadeira e a invenção por algo que ela espera que a preencha de uma maneira pronta.
-
G |Como saber que o trabalho de desintoxicar uma criança deu certo? O que muda no comportamento de uma criança sem o contato com as telas?
JJ |Quando as situações vão se tornando atravessáveis porque passam a ser representadas pela criança, quando se torna possível a construção do valor da palavra e quando a criança descobre o prazer de inventar em vez de receber algo pronto que encharca os seus sentidos.
-
G |É possível as crianças terem uma relação saudável com as telas? A partir de qual idade as telas podem ser oferecidas? Qual seria o tempo máximo de uso por dia?
JJ |Me interessa muito menos produzir instruções fixas, porque as instruções estão aí, dadas, existem tabelas de associações de pediatria de diferentes países, mas elas não garantem nada. Há uma pergunta essencial que a gente não pode perder de vista antes de entregar uma tela na mão de uma criança ou antes de pegar uma tela na presença de uma criança. Precisamos nos perguntar: no lugar do que que a tela está? Não significa que a criança nunca, jamais, poderá ver um desenho animado. Mas a pergunta é: no lugar do que isso entra? Essa é a melhor chance que a gente tem para não produzir um excesso que pode suprimir uma experiência estruturante.
-
G |A televisão, muito demonizada em outros tempos, parece ser a tela menos danosa hoje. A partir de qual idade, e por quanto tempo, é saudável uma criança assistir tevê? A TV pode ser educativa em algum nível?
JJ |Nós não podemos simplesmente pensar em equivaler tudo. Esses gadgets são um meio. A questão é o que se opera através deles quando se coloca fragmentos de imagens de 30 segundos, quando se insere propagandas, quando há um youtuber falando diretamente para a criança, sem que aquele conteúdo seja discutido com os pais, ou quando existem joguinhos compulsivos. Com certeza, tudo isso gera danos. Agora, uma criança que assiste a um filme ou a um programa, entre tantos maravilhosos da TV Cultura, por exemplo, e que depois tenha uma conversa com os pais sobre o que foi visto, certamente não é a mesma coisa do que jogar um jogo compulsivo. Há uma diferença. Tudo o que é excessivamente fragmentário produz uma condição muito ansiogênica e gera o encurtamento do pensamento. Aquilo que é mais criativo, menos passivo, que tem mais alinhavo e, sobretudo, que não se faz sozinho, tende a ser melhor. É como as coisas se elaboram ou não. Mas se a criança anda pela cidade olhando para um tablet em vez de olhar pela janela, isso ocupa outro lugar. O que eu acho mais importante, numa época em que os pais têm tantas instruções, é reabrir o espaço para a interrogação: a tela está no lugar do quê? Isso é crucial.
-
G |As escolas podem e devem fazer algo ao identificar que seus alunos estão intoxicados?
JJ |Há objeções necessárias a se fazer, sim, porque essa questão diz respeito a todos nós, como sociedade. A questão é conversar sobre o tema e pensar o que é preciso construir no lugar da tela. Porque, por exemplo, o celular não deve estar na sala de aula, certo? Mas as crianças têm aulas sobre como fazer pesquisas virtuais de uma maneira segura e séria, entendendo que nem tudo o que está na internet se equivale. Assim, a gente também vai rompendo com o analfabetismo digital que torna as crianças presas fáceis para uma situação, que também é um conceito que eu tenho trabalhado: a sobredeterminação algorítmica. Alguns anos atrás se discutia sobre como a criança, por meio da televisão, era alvo da propaganda. Hoje em dia, por meio da pegada digital, vai se produzindo toda uma propaganda endereçada com a qual a gente tem que ter cuidado, porque ela produz uma sobredeterminação algorítmica em que a criança também pode ser bombardeada pela publicidade. Outro ponto fundamental é a deep web que, sabemos, existe, e a criança pode acabar tendo acesso a conteúdos excessivos ou inadequados para a idade dela. E como se trata de uma forma de transmissão não mediada, é bem diferente da transmissão que familiares ou professores fazem. Sem mediação, a criança pode estar exposta a conteúdos que não estão tramitando simbolicamente por alguém para quem a vida dela tem importância. Nesse sentido, por pior que seja um programa televisivo, se tem alguém do lado, dá para produzir uma crítica, que vai ajudar a desenvolver um pensamento crítico na criança. Mas o que acontece quando cada um fica solitário com a sua tela? Deixa-se de conversar sobre o que está ali.
-
G |O que fazer quando as crianças que frequentam uma mesma escola têm, em casa, regras diferentes sobre uso de eletrônicos e influenciam negativamente umas às outras? Como lidar com essa situação?
JJ |Ainda bem que ir para a escola traz diferenças porque a escola é um lugar de encontro com a alteridade. A casa de um não é idêntica à casa do outro. E isso é muito bom. Porque é a partir de situações assim que se pode problematizar e discutir. É o que prepara para, mais tarde, ir para o mundo, onde não se pensa todo mundo igual.
Julieta Jerusalinsky
é psicanalista, especialista em estimulação precoce, mestre e doutora em psicologia clínica. Fundadora da REDE-BEBÊ e professora de pós-graduação nos cursos de teoria psicanalítica, na PUC-SP, e de clínica de bebês, no Instituto Travessias da Infância. É autora, entre outros livros, de “Intoxicações Eletrônicas: O Sujeito na Era das Relações Virtuais”